Obras Completas XIII: O Labirinto da Saudade e Outros Ensaios sobre a Cultura Portuguesa
Eduardo Lourenço
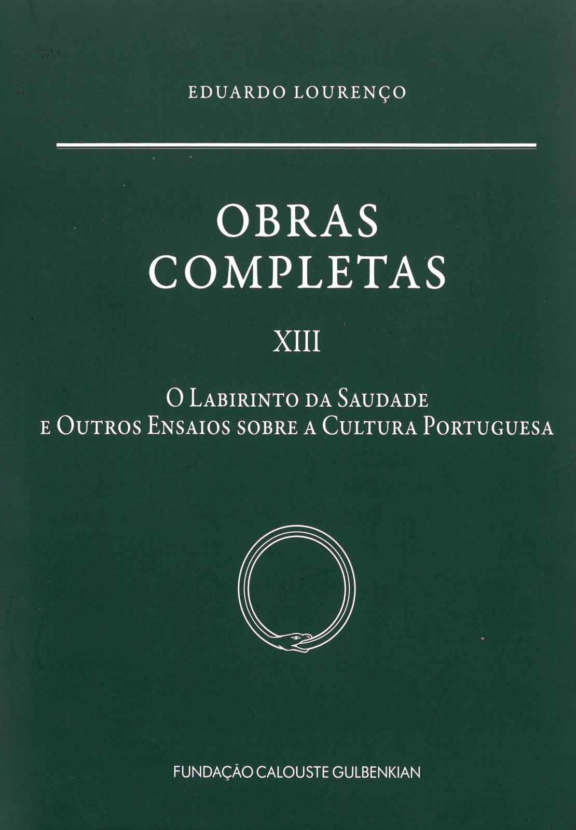
O Labirinto da Saudade será provavelmente o livro mais conhecido de Eduardo Lourenço. Dizem-no o número de edições que teve em Portugal, as traduções (parciais ou integrais) que dele foram realizadas, as reacções que ocasionou, o recente filme homónimo de Miguel Gonçalves Mendes, em parte ainda a própria vida do autor, como se a análise imagológica proposta no Labirinto fosse também uma autognose de quem o escreveu.
O [livro] é indissociável da época em que foi publicado, pouco depois da mudança de regime em Portugal, à beira do último quartel do século XX. Mas o conteúdo do volume, mais do que dizer respeito ao período imediatamente seguinte ao 25 de Abril, rodeia-o. […] Há no Labirinto um programa de mudança […], no qual cultura e política estão associadas, e que exige tanto o reconhecimento de uma mitologia persistente que atravessa a história portuguesa e diversos regimes políticos como a sua desconstrução e substituição.
Tendo no horizonte a renovação do imaginário português, Lourenço faz o diagnóstico das auto-representações nacionais e explora a imagiologia, entendida enquanto «discurso crítico sobre as imagens que de nós mesmos temos forjado». […] Em alternativa ao racionalismo de pendor pedagogizante [de António Sérgio], Lourenço explora o impulso dialógico na sua escrita e esquiva-se à leccionação: o labirinto, mais do que um caminho, é uma pergunta.
No presente volume […] o propósito não é o de reunir tudo o que Eduardo Lourenço escreveu sobre cultura portuguesa, mas antes o de integrar aqueles ensaios que cumprem dois requisitos:
- Manterem com o Labirinto um vínculo forte reconhecido pelo seu autor;
- Terem aparecido integrados em livro organizado pelo próprio Eduardo Lourenço ou cuja organização foi por ele seleccionada. […]
A terceira parte deste volume é constituída por textos de carácter acessório ou com relação mais distante com o Labirinto.
(Da Introdução de João Dionísio)
Ficha técnica
- Outras Responsabilidades:
Edição de João Dionísio
- Idioma:
- Português
- Editado:
- Lisboa, 2023
- Entidade
- Fundação Calouste Gulbenkian
- Dimensões:
- 180 x 230 mm
- Capa:
- Encadernado
- Páginas:
- 412
- ISBN:
- 978-972-31-1660-1
