Giuseppina Raggi
Bolseira Gulbenkian 1998 – Histórias de Impacto
Sou italiana e nasci em Cesena, uma pequena cidade entre Bolonha e o mar Adriático. Os meus pais não tiveram estudos superiores, mas deram-me a mim e à minha irmã a possibilidade de estudar música clássica e de irmos para a universidade.

Desde pequena, sempre gostei de olhar o mundo ao meu redor. Adorava a natureza, lembro-me de me ter querido tornar etóloga dos grandes animais africanos. Podendo lidar só com o tamanho da natureza do meu jardim, lembro-me de uma tarde em que estive totalmente imóvel a observar os caminhos que as formigas faziam na direção do seu formigueiro. Lembro-me, também, do primeiro dia de escola: acordei e comecei a pular em cima da cama «hoje vou para a escola, hoje vou para a escola». Aquele entusiasmo nascia da intuição de que iria descobrir novos mundos, que as letras que ia aprender traziam consigo horizontes vastos e fascinantes. E é assim até hoje.

Mas não me tornei etóloga em África. Quando tinha 11 anos, entrei no Conservatório de Música e a minha vida virou para as artes. Estudei piano e concluí o curso de flauta transversal. Na mesma altura, frequentava o Liceo classico da minha cidade, onde se estudava principalmente italiano, latim e grego. Gostava de história mas sobretudo, a partir da adolescência, surgiu em mim um profundo e espontâneo interesse pelos Direitos Humanos. Tornei-me ativista da Amnistia Internacional e estudei muito o contexto histórico que, depois da Segunda Guerra Mundial, levou à Declaração dos Direitos Humanos. Era uma rapariga de uma cidade da província que se perguntava sobre o «porquê do mundo». Estas perguntas, que pertencem universalmente à adolescência, despertavam em mim uma paixão de conhecimento ainda maior.

Depois do curso de flauta, terminei a Licenciatura em Letras, ou seja, em literatura italiana, em latim, em muita História e em muitíssima História da Arte. Naquela altura, a licenciatura tinha uma duração de quatro anos e eu decidi celebrar esse feito, com uma viagem num lugar totalmente diferente do mundo que eu conhecia. Gostando muito de poesia também, queria ver se, mudando completamente o contexto, «pensaria pensamentos nunca pensados».
Assim, em 1994, juntando competências e desejo, escolhi ir três meses para o Recife, para uma instituição ligada ao maravilhoso trabalho político-social desenvolvido pelo arcebispo D. Hélder Câmara, um homem cuja potência espiritual eu tive a sorte de conhecer diretamente e perceber concretamente, pois a emanava como o sol irradia os raios (e não estou a usar uma metáfora poética).
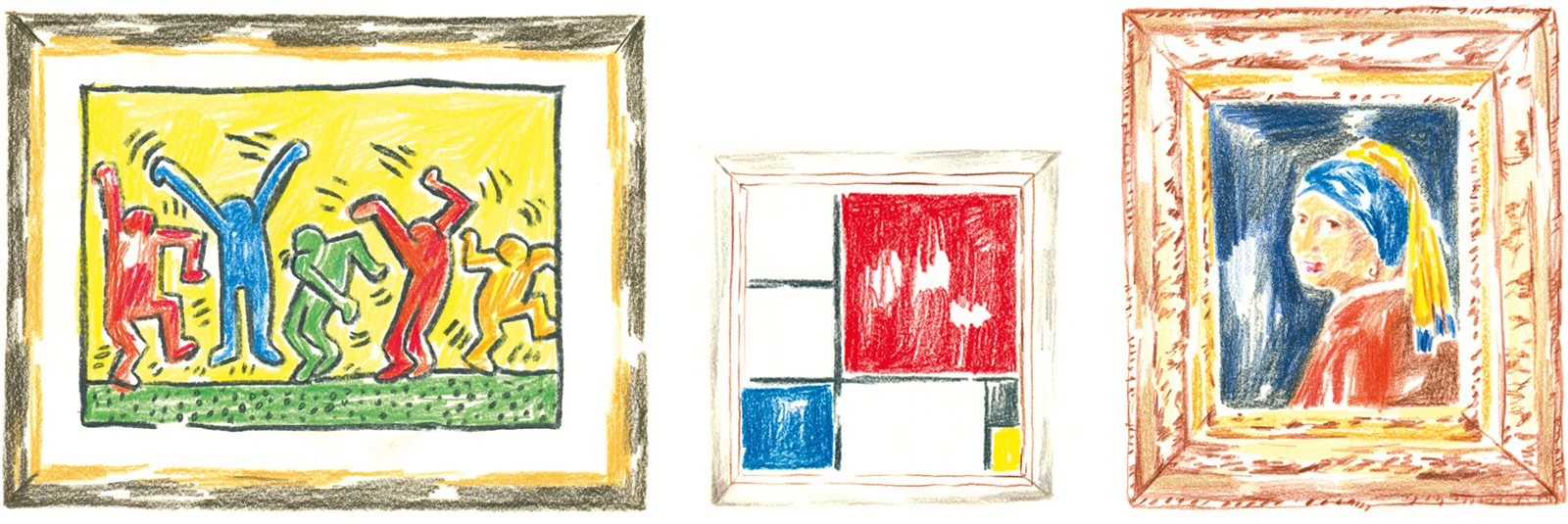
Parti de Itália sem conhecer uma palavra de português. Nem sabia como se dizia «obrigada». Ensinei flauta a cem crianças de comunidades carentes e aprendi rapidamente a falar português, ajudada pela fantasia das crianças que sempre achavam uma maneira para me explicar o sentido das palavras. Nunca aprendi uma língua tão rapidamente e com tanta naturalidade. Mas no Recife nem só aprendi, nem só trabalhei. Aproveitei também para conhecer a cidade e, tendo concluído a licenciatura com um reconhecido trabalho sobre a pintura de quadratura (uma maneira de pintar a fresco paredes e tetos), deparei-me com algumas igrejas barrocas, como a dos Clérigos de Recife ou a do convento de São Bento em Olinda. Visitando-as, apercebi-me que tinham pinturas de arquiteturas tão ‘esquisitas’ aos meus olhos ao mesmo tempo que me falavam de algo que eu conhecia (a quadratura) mas cuja conexão não conseguia achar. A pergunta ficou no ar. A intuição voltava a vibrar: havia algo de interessante por aí.

Em 1995, depois de outros três meses de voluntariado, comecei a Scuola di Specializzazione in storia dell’arte e delle arti minori na Universidade de Bolonha, onde tinha concluído a minha licenciatura. O curso durou três anos e eu não tive possibilidade de regressar ao Brasil. Em 1997, queria voltar a encontrar os meus amigos e queria enveredar para o doutoramento, continuando a estudar a quadratura. Mas continuavam na minha memória as tardes passadas a olhar para os tetos do Recife e de Olinda, na penumbra fresca das igrejas coloniais, ouvindo o som inconfundível das palmeiras.
Um dia, um como outro qualquer, decidi ir para o Centro de Informação para Jovens da minha cidade e disse que queria estudar no estrangeiro. Deram-me um grosso livro com todas as bolsas de estudos do mundo e eu procurei por História da Arte e por Língua Portuguesa. Havia uma apenas: o programa da Fundação Calouste Gulbenkian para estrangeiros. Não coube em mim de alegria e de espanto; de tantas bolsas, havia apenas uma que podia ser para mim e de uma Fundação que eu (ainda) não conhecia.
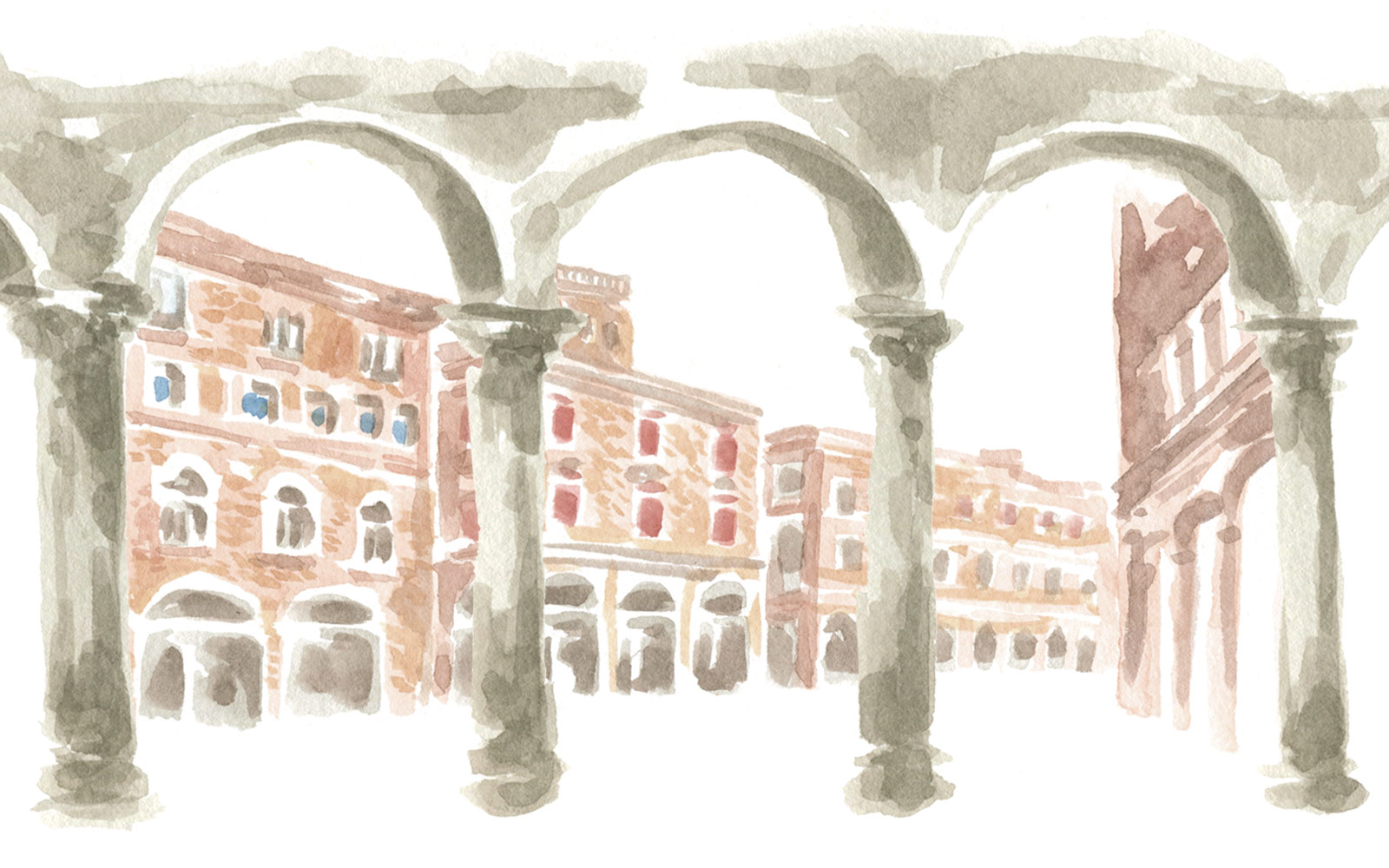
Foi o primeiro encontro com a Fundação Gulbenkian que, posso hoje dizer, mudou o rumo da minha vida. Ganhei uma bolsa de um ano que incluía seis meses em Portugal e, em via excecional, seis meses no Brasil. Regressei ao Recife, fui pela primeira vez a Salvador e às cidades históricas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Onde havia um teto pintado com quadratura, lá estava eu. Horas e horas de ónibus, viajei sempre sozinha e adorei olhar os quilómetros de verde brilhante que nunca acabam em Minas Gerais, os morros fluminenses, a energia de África na Bahia.
Em Lisboa, onde estive nos primeiros seis meses da bolsa, comecei a conhecer um mundo desconhecido da História da Arte em Portugal. Adorei a cidade, não só a sua arte e as suas igrejas que tanto dialogavam com os meus estudos, mas sobretudo a sua luz, o vento atlântico e o Tejo, motivos naturais que me convenceram a voltar e, mais tarde, a ficar. O ano de estudo propiciado pela bolsa da Gulbenkian foi, por tudo isto, riquíssimo e inesquecível. Pisava um território desconhecido, mas cheio de “minas de ouro” (usando uma palavra “joanina”) para a minha curiosidade de historiadora da arte. Assim, consegui ter a renovação da bolsa para o segundo ano e preparei a minha candidatura ao doutoramento ao programa da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
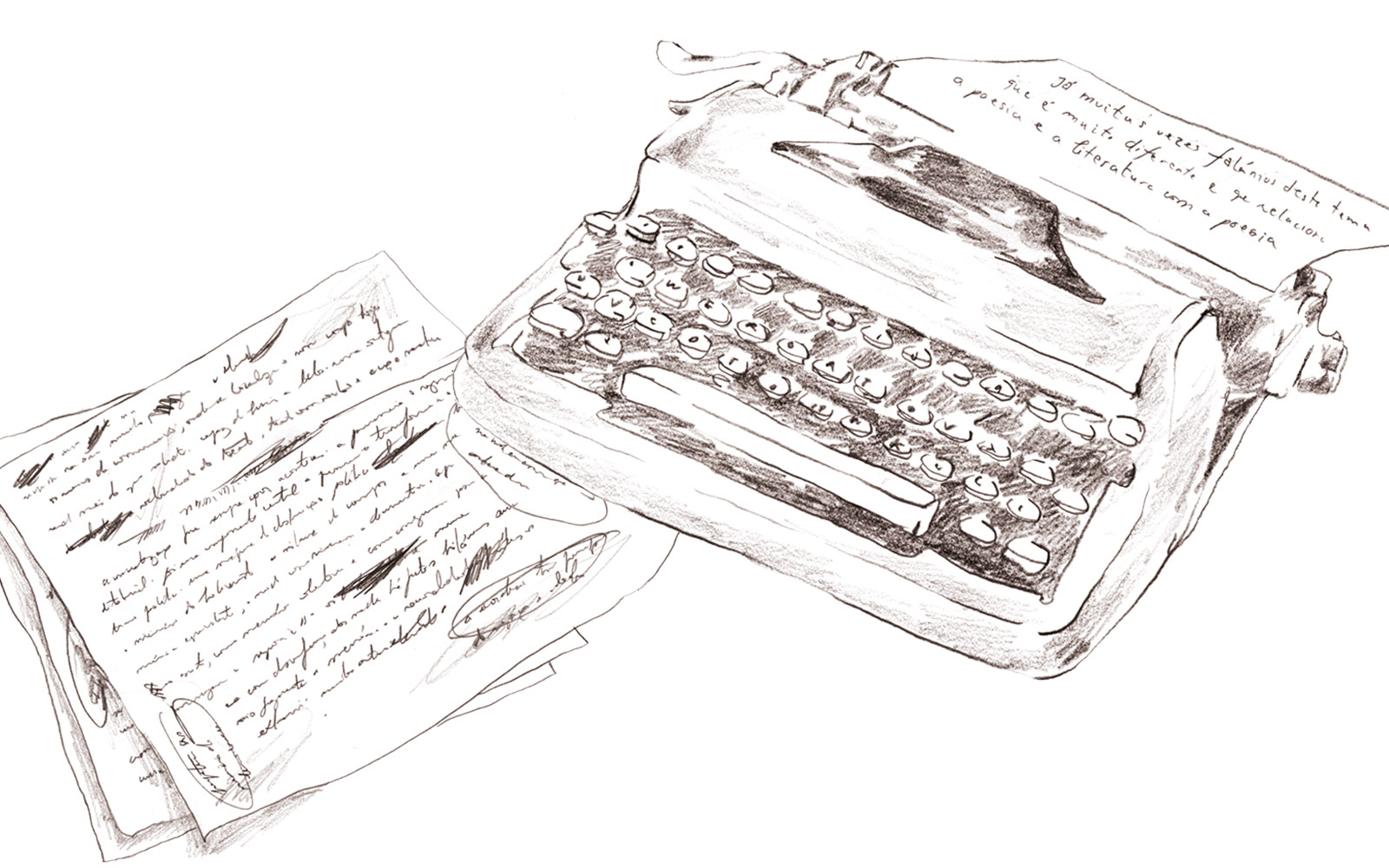
Entre 2000 e 2004, desenvolvi a minha pesquisa de doutoramento realizada em co-tutela entre a Universidade de Lisboa e a Universidade de Bolonha. Foi um trabalho ciclópico, que me deu a oportunidade de conhecer o mundo artístico luso-brasileiro mas que ‘chocava’ quer com a visão nacionalista da história da arte portuguesa, quer com a visão ‘italiano-cêntrica’ do mundo académico bolonhês. Entusiasmava-me, por exemplo, ter seguido e trazido à luz os rastros de um pintor escravo do mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, António Telles, enviado para Olinda para pintar o teto daquela magnifica capela-mor e que tantas perguntas me tinha levantado em 1994.
Nos primeiros anos de 2000, a produção científica no campo da história da arte não estava, ainda, preparada epistemologicamente para ultrapassar a análise estilístico-formal frequente no meio académico italiano e dominante no português. Sublinho que fui muito bem acolhida em Portugal, um país onde a minha pesquisa foi apreciada e reconhecida. No entanto, eu sentia que estavam respostas científicas ainda por dar. E regressei a Itália em 2005, onde comecei a escrever como jornalista, porque a escrita, para mim, é um elemento central da minha tendência à procura de sentido. No fundo, posso dizer agora, tornei-me pesquisadora porque investigar é uma pulsão natural para mim, e não só no campo da História da Arte.

Em 2008, decidi retomar a investigação e candidatei-me ao programa de bolsas de pós-doutoramento da FCT, criando uma equipa de seis co-orientadores que representavam a mais valia do meu projeto e que muito me ajudaram para amadurecer o meu caminho pessoal de investigadora. Estavam envolvidas as Universidade de Coimbra, de São Paulo, de Belo Horizonte, de Montréal e de Udine. Tinha juntado os maiores especialistas nas áreas histórico-artísticas que queria abordar e, para aprofundar o meu conhecimento em História, integrei-me num centro de investigação da Universidade Nova. Foram anos de trocas e aberturas, de viagens e novas experiências académicas.
Comecei a coordenar, junto com os investigadores principais, importantes projetos europeus, incluindo o primeiro projeto europeu de troca de equipas académicas concedido pela EU no campo das ciências humanas. Em 2015, um evento inesperado determinou a minha decisão de sair do meio académico, onde mais me encontrava envolvida, e de procurar um novo rumo para a minha carreira. Foi a segunda vez que o programa de bolsas da Fundação Calouste Gulbenkian cruzou o meu caminho, oferecendo-me a possibilidade de começar a refletir sobre um assunto inovador no panorama histórico-artístico português (o mecenato no campo da ópera e do teatro italiano da rainha Maria Ana de Áustria, consorte de D. João V) e, ao mesmo tempo, de encontrar aquela necessária tranquilidade para dar a atuação concreta ao meu ímpeto de mudança.

Passados uns anos, vi-me a liderar pesquisas inesperadamente frutuosas sobre a importância da política artística promovida pela rainha de Portugal e comecei a trabalhar no meu novo projeto de investigação individual sobre o mecenato artístico das comunidades africanas e afrodescendentes no Portugal do Antigo Regime. Tornei-me investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, integrando o núcleo de pesquisa sobre Cidades, Culturas e Arquitetura. Candidatei-me ao programa da FCT do Estímulo ao Emprego Individual e o meu projeto obteve, na minha categoria, o primeiro lugar absoluto entre milhares de candidatos.
Foi uma grande surpresa pois, quando me sentei para escrever o projeto, tinha decidido seguir exclusivamente a minha intuição de pesquisadora, uma aposta arriscada no meio altamente competitivo deste tipo de novos concursos. E a minha maior satisfação foi perceber que todo o meu percurso de investigação tinha pesado na decisão do júri. História da Arte, Música, Direitos Humanos e Políticas Culturais fundiram-se no projeto sem que eu me desse conta e foram reconhecidas pelo júri como um percurso coerente, apesar de a minha carreira de investigação não ter sido certamente linear. Uma riqueza que devo também à minha experiência como bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian, que marcou as passagens cruciais do meu percurso académico.

Por fim, para futuros bolseiros e bolseiras, posso dizer que o mundo académico tem regras não escritas mas por todos partilhadas que, por vezes, atacam pela raiz a criatividade. Seguir a própria intuição é um antídoto poderoso para que o caminho da investigação se mantenha desafiante, brilhante e, sobretudo, colaborativo de verdade. Não há nada de mais alegre do que partilhar a sede de conhecimento da nossa inteligência com os outros. A meu ver, situando-se fora do contexto institucional das universidades, o programa de bolseiros da Fundação Gulbenkian pode propiciar um espaço livre, amigável, descontraído e, ao mesmo tempo, eficiente e de vanguarda científica. Esse é o meu voto para o futuro do programa de Bolseiros da Fundação Calouste Gulbenkian.

Histórias de Bolseiros
Desde 1955, a Fundação Gulbenkian apoiou mais de 30 mil pessoas de todas as áreas do saber, em Portugal e em mais de 100 países. Conheça as suas histórias.


