Alexandro Cardoso

Nasci em meados dos anos 80, na Roça Nova Linda, em São Tomé, sendo o 9º de 11 filhos de uma mulher cabo-verdiana contratada para trabalhar nas roças de cacau de São Tomé e Príncipe.
A minha mãe não sabe ler nem escrever. Desembarcou no Porto de São Tomé aos 18 anos, em 1970, e foi levada para a Roça Santa Catarina. Ela saiu de Cabo Verde pelos mesmos motivos que fizeram com que muitos cabo-verdianos deixassem a sua terra, naquela altura, em busca de uma vida melhor: a fome e a seca.

Naquela roça, além de trabalhar arduamente no cultivo de cacau, teve sete filhos, fruto de um relacionamento que acabou porque ela sofria de violência doméstica.
A minha mãe conhece depois o meu pai, com quem teve mais quatro filhos. Foi viver para uma terra onde o meu pai era guarda de uns campos onde se cultivava milho. Foi onde eu nasci, em 1985, Nova Linda, no distrito de Cantagalo. Cinco anos depois, tinha eu 5 anos de idade, a minha mãe, novamente por sofrer de violência doméstica, abandona a casa e leva os quatro filhos para um bairro nos arredores do aeroporto. Erámos ainda muito pequenos e nenhum estava na escola. Foi ali que começámos a ajudar a minha mãe a trabalhar no campo, de onde tirávamos o nosso sustento.

Vivíamos numa casa situada num campo isolado, longe de toda a comunidade, sem acesso a água, nem a energia eléctrica. As tarefas eram partilhadas: os mais velhos iam pescar no rio e os mais novos ficavam em casa para ajudar a mãe nos outros trabalhos, como catar água e lavar as loiças. A nossa casa era feita de madeira bruta, chapas de tambor nas paredes e plástico e palhas secas na cobertura. Era um espaço muito pequeno, com pouco mais de 10m2 e sem janelas. Não podíamos, por exemplo, comer dentro da casa porque não tinha espaço suficiente para todos nós nos sentarmos.

Quando a minha mãe ia ao rio lavar a roupa, íamos todos com ela. Enquanto ela lavava a roupa, eu pescava com outros amigos no rio. Um dia os meus amigos deixaram de ir pescar comigo porque iam para a escola. Eu já tinha 9 anos, e nunca tinha ido para uma escola. Como eu ficava isolado, pedi à minha mãe que me deixasse ir com eles. A minha mãe disse-me que eu não era ainda registado e, por isso, não podia. Depois de muita insistência, a minha mãe levou-me para a Conservatória de Registo Civil para ser registado e ter um nome. O registo foi feito sem a presença do meu pai, pois a sua vida nómada não permitia que o localizassem.

Dias depois começo a ir para a escola. A alegria era imensa. A pobreza também. Com livros e cadernos num saco de plástico (para os proteger da chuva) e os pés descalços, eu e outro irmão que também já se encontrava em idade escolar fazíamos oito quilómetros a pé para a escola.
A caminho da escola, depois de passarmos pelos campos, chegávamos a uma estrada asfaltada. Por estarmos descalços, usávamos pacotes de papel para envolver os pés e evitar queimaduras pelo alcatrão. Já na escola, encontrávamos colegas à nossa espera, pois levávamos, no saco de plástico, frutas silvestres apanhadas pelo caminho e cana-de-açúcar de uma terra familiar. A solidariedade era uma coisa já bem incutida em nós, embora tivéssemos pouco ou nada.

Enquanto fazia o ensino primário, também frequentava a catequese para poder ser baptizado. A minha primeira catequista chamava-se irmã Aida, uma das Irmãs Franciscanas portuguesas da paróquia de Guadalupe. Desde muito cedo, ela apercebeu-se das dificuldades por que eu passava. Um dia, pediu-me que fosse a Casa das Irmãs, onde ela me ofereceu um par de ténis e uma mochila para a escola. Foram os primeiros presentes que eu havia recebido na minha vida. Foi também o primeiro par de ténis que calcei, aos 10 anos.
Quando cheguei à 7ª classe, surgiram os uniformes obrigatórios para todos os alunos, em todos os níveis de ensino. A existência de uniforme nas escolas permitiu um aparente nivelamento social. Aparentemente, erámos todos iguais na escola. Naquela altura, eu já tinha cerca de 15 anos. Além de trabalhar no campo familiar para nosso sustento, eu e os meus irmãos trabalhávamos nos campos de outras pessoas. E assim, conseguíamos ganhar algum dinheiro para comprar materiais escolares. Os irmãos mais velhos também ajudavam no que podiam.

Nos fins-de-semana, recebia colegas em casa para lhes dar explicações. Sentávamo-nos debaixo de um caroceiro numa mesa de madeira improvisada, e ali explicava aos colegas matérias de todas as disciplinas. Fazíamos a retrospetiva da semana, disciplina a disciplina.

Quando passei para o Liceu, já tinha 18 anos. As aulas começavam às 7h00, mas antes de ir para a escola, muitas vezes, tinha que ir ao campo (plantação da família) buscar mandioca, feijão, milho e outros produtos que produzíamos para a nossa alimentação. Eu acordava com o cantar dos pássaros, para ir ao campo e voltar a tempo de não perder o primeiro autocarro que nos levava para o Liceu, pois perder o primeiro autocarro significava perder as primeiras aulas. E era sagrado para mim assistir a todas as aulas. O percurso de ida e volta era de quatro quilómetros a pé, mais 30 quilómetros de autocarro.
Muitos professores e pessoas de boa vontade ofereciam-me materiais escolares, porque acreditavam no meu potencial. Era um excelente aluno. Até sair de São Tomé, nunca antes, até aos 20 anos, tinha acesso à energia eléctrica em casa. Ainda assim, quando terminei o 11º ano, fui o segundo melhor aluno do único liceu no país naquela altura.
Quando terminei o 11º ano, eu não acreditava que uma pessoa da minha condição social tivesse o privilégio de ter uma bolsa de estudo, embora fosse uma exceção entre os meus colegas em termos de capacidade intelectual. Então, continuei a minha vida como sempre, no campo, sem grandes expectativas.

Numa tarde dos primeiros dias de Agosto de 2005, enquanto trabalhava no campo, procuravam por mim no bairro, porque chegou a notícia que teria ganho uma bolsa de estudo. Notícia dada pelo Presidente da Câmara de Lobata aos meus familiares. No dia seguinte, dirigi-me à Fundação Mãe Santomense para me certificar disso. Fui recebido na Fundação Mãe Santomense pelo Dr. Carlos Tiny, que me pediu para falar um pouco sobre o meu percurso de vida. A seguir, ele disse-me que eu tinha recebido uma bolsa para estudar em Portugal. Uma bolsa financiada pela Fundação Calouste Gulbenkian. Era o início da grande reviravolta na minha vida.
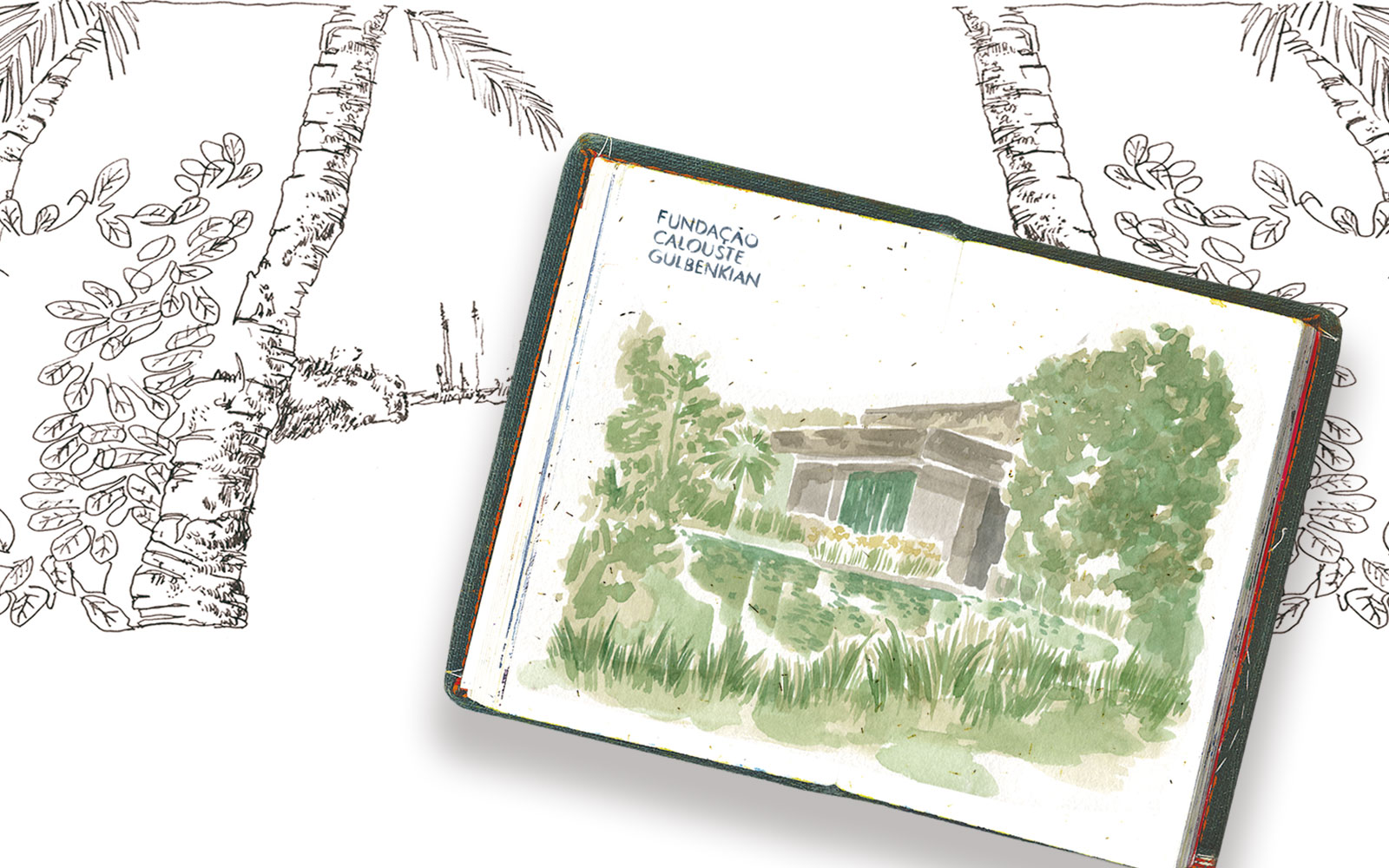
A bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian não foi uma simples bolsa para mim. Além de garantir a continuidade dos meus estudos em Portugal, o meu rendimento mensal também servia para ajudar no sustento e na educação de dois irmãos mais novos que tinha deixado em São Tomé. Todos os meses eu enviava dinheiro para a minha família, para garantir que os meus irmãos mais novos continuassem a estudar.
Com a bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian, consegui concluir uma Licenciatura e um Mestrado. Após a minha formação, voltei ao meu país de origem onde, além de agricultor, trabalho como Técnico de Comunicação da Federação das ONG. Em São Tomé, eu sou também colaborador voluntário da Fundação Mãe Santomense, com quem trabalho em iniciativas de promoção do acesso de crianças oriundas de famílias mais carenciadas ao ensino. Desta forma, pretendo dar à sociedade o que ela me deu a mim e dar às crianças do meu país, sobretudo aquelas mais vulneráveis como um dia eu fui, uma oportunidade para exprimirem e expandirem o seu potencial. É uma acção que pretendo realizar enquanto viver.

